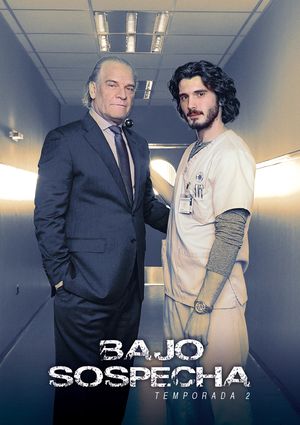Roberto Rillo Bíscaro
De acordo com o filme Abzurdah (2015), a Argentina é o
segundo colocado em casos de distúrbios alimentares como a anorexia, perdendo
apenas para o Japão. Talvez seja por isso que a autobiografia de Cielo Latini
tenha esgotado edições no vizinho platino.
A diretora estreante Daniela Goggi manteve o nome do
livro em sua transposição para as telonas, a qual também foi muito bem sucedida
em seu país de origem.
Abzurdah é o apelido que Cielo usa no ICQ – a história se
passa no início dos anos 2000, quando o já extinto MSN ainda não triunfara e
acessar a internet ainda fazia aquele barulhinho irritante e a linha telefônica
permanecia ocupada – mundo onde tenta suprir com amigos virtuais a escassez de
pessoas reais em sua vida.
Adolescente voluntariosa e arrogante, Cielo é o
arquétipo da angustiada propensa a dramatizar tudo ao máximo. Se acha diferente
e superior, sem que na realidade tenha algum traço distintivo. É boa escritora,
mas até aí, quem não possui alguma habilidade?
Insatisfeita consigo, com os pais e com tudo, Cielo
conhece Alejo, dez anos mais velho, com quem flertava virtualmente. Por ter
mais idade, o rapagão tatuado aparenta ser mais seguro e, claro, faz todo o
tipo cool (canchero, na gíria argentina), enlouquecendo Cielo, que o considera
a última bolacha do pacote (a pobrezinha não aprendera ainda, que essas se
quebram com muita facilidade).
Quando Alejo começa a enjoar da pegajosa carência da
menina, Cielo desparafusa e cai numa espiral de automutilação e anorexia,
inclusive criando um blog onde incentiva o “modo de vida”.
O filme tem o mérito de trazer o assunto à baila e pode
ser usado como motivador de discussões e alertas, além de manter a atenção.
Mas, é tudo difuso; no final das contas ninguém nos é apresentado com
profundidade. Cielo joga a culpa nos pais, mas temos apenas sua palavra – com
aquela cabecinha tão perturbada?! – porque não vi nada de desabonador no casal.
Quem não suporta teens
ou tem problema mais tangível na vida, poderá até pensar que Cielo faz
tempestade em copo d’água. Claro que não é assim, alterações mentais e neuras
são reais e graves; não são frescura, falta de serviço ou qualquer asnice
compartilhada em rede social. Mas, a falta de profundidade pode conduzir a
leituras que tais. Nada é discutido, explicado; parece episódio de série de TV,
tradicionalmente menos profunda.
Abzurdah está no catálogo
da Netflix.