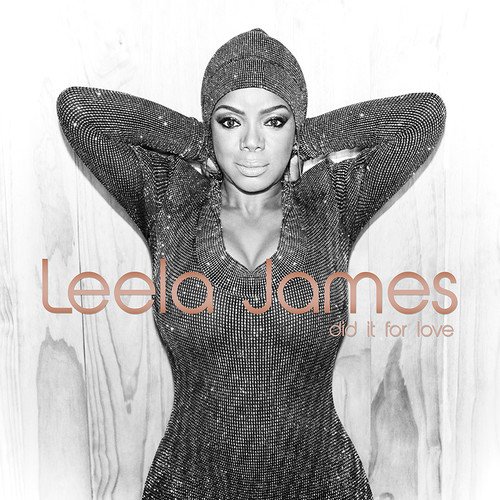MEDITAÇÕES
SOBRE A CORRUPÇÃO
José
Carlos Sebe Bom Meihy
Não
foi surpresa saber que a palavra mais proferida, em todas as mídias, no ano de
2017 foi “corrupção”. Como efeito natural que nos envolve e atinge, entendemos mecanicamente
o que ela é e o quanto nos custa. Decorrência imediata de intuições defensivas,
sequer questionamos significados mais profundos, e nem nos preocupamos com definições
e conceitos. Ato ilegal, quadrilheiro, danoso a todos e, pronto, temos
pressupostos que nos permitem rejeições cabais. E não é necessário grande exercício
para notar que esse mal dissimulado fere tragicamente o bem estar social,
colocando os atingidos em situação de prejuízos consequentes. Corruptos,
contudo, sempre são “os outros”, “eles”, ‘políticos”, pessoas que, por
contraste, não se igualam a gente. Tudo
como se nada tivéssemos a ver com isso. Essa percepção que pode ser aquilatada
em todos os quadrantes do universo, contudo, tem características culturais
peculiares, que requerem cuidados interpretativos segundo seus jeitos locais.
Não basta ser contra “eles” precisamos saber porque existem e como sobrevivem
conosco.
Especialistas
no tema, em particular quando filtram análises pela ótica antropológica, notam
variedades que ajudam a entender o fenômeno e sua maior ou menor aceitação ou
resistência públicas. Um passo importante na direção de melhor juízo sobre a
corrupção implica, por exemplo, notar que ela é mais incidente em países de origem
católica do que protestante. Segundo historiadores, o confessionário, o perdão
e a remissão dos pecados, ajudam a tolerância. Há também aqueles que notam a hierarquia
católica como facilitadora de práticas corruptíveis e, ao contrário, a
responsabilização protestante como mecanismo de controle pessoal e público.
Também é notado que entre os orientais – em particular no Japão – a corrupção é
menos frequente e os casos descobertos resultam em grande vergonha pública levando
até a suicídios. Na mesma linha, é sabido que em países escandinavos tem-se
pouca notícia dessa prática, fato que permite supor que em lócus menos povoados
e com média econômica mais elevada tais situações são quase inexistentes.
Lamentável avaliar que a África e a América Latina figuram como espaços mais
danosos.
A
provar a ameaça da corrupção como um vírus letal e progressivo, de alcance
ampliado desde o fim da Segunda Guerra, têm sido criadas entidades de alcance
internacional, como a Anti-Corruption
Agency (ACA) que visa pôr em evidência o problema em escala internacional e
assim promover combates. Sabe-se que muitas empresas europeias, de países como
a Holanda, Suíça, França ou Suécia ainda que tenham controles internos, atuam de
maneira sorrateira em outros estados, mais vulneráveis. A fim de disseminar o
combate à corrupção internacional, anualmente é publicado um relatório detalhando
essas manifestações escusas - o Business
Environment and Enterpriese Performance Survey (BEEPS) - complementado por
outro programa, o Corrupt Perception
Index (CPI). Juntos esses são alguns dos medidores internacionais que
previnem e alertam sobre o mal. Há outros mais que insistem em denunciar o
crescimento do fenômeno sob a égide da globalização, mas por mais que se
multipliquem, serão poucos se não houver melhor compreensão do fenômeno em suas
culturas.
A
maior dificuldade em se estabelecer um conceito-parâmetro para a corrupção diz
respeito às tradições de cada local. Mesmo no Brasil, além de se reconhecer que
a corrupção é histórica, sabemos que nessa mania escandalosa se liga a práticas
como: compadrio, clientelismo, coronelismo e às relações parentais modernamente
chamadas de nepotismo. Antes de supor ligeiramente que tais hábitos são
superados, ou coisa do passado, convém admitir atualizações e sua
institucionalidades políticas. A complicar precisões definidoras, ainda
presidem fórmulas que excedem o exclusivismo do dinheiro como mecanismo de
recompensa salteadoras. As premiações pecuniárias, barganhas de presentes,
comprometimentos variados e promessas futuras integram o pesado pacote que
sempre que descoberto vem acompanhado de justificativas sutis e falaciosas. No
Brasil tornou-se comum a generalização das graças obtidas por meios ilícitos da
corrupção sintetizada no termo “propina” e ligada a ajudas de campanhas
políticas, ou facilitação nas concorrências públicas.